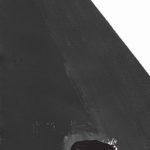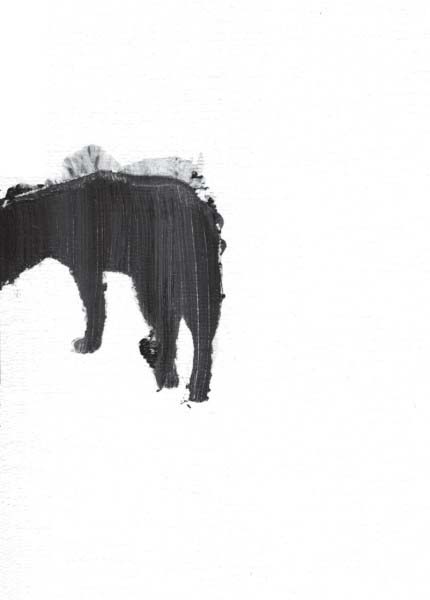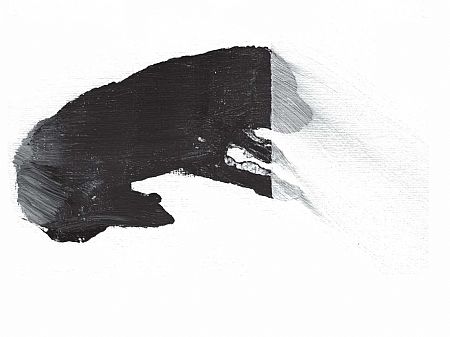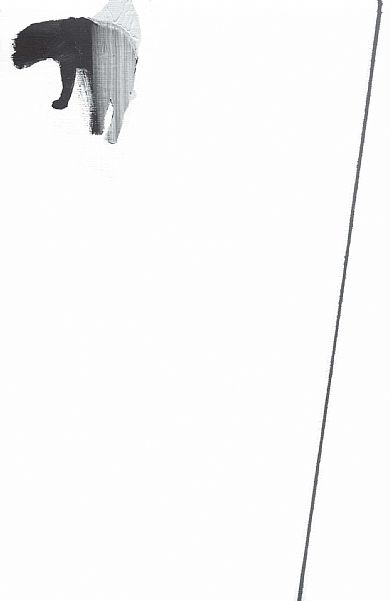A dissolução em Guignard
Um artista em formação tem algumas paixões inexplicáveis. Não falo de influências pontuais que o trabalho recebe, de questões contemporâneas ou de sua relação direta com o mundo, como, por exemplo, o fato de minha geração ter sido influenciada pelo neo-expressionismo na década de 1980, mas sim, de paixões anteriores, atávicas, à formação profissional básica que marcam o caráter de cada artista.
Eu passei anos da minha formação pensando a obra de Guignard. Com o tempo, as coisas mudaram, outras questões surgiram, mas esse período permanece como um momento importante, definidor do meu trabalho.
A fronteira final
A raça humana existe como espécie separada há cerca de 2 milhões de anos. A civilização teve seu início cerca de 10 mil anos atrás e a taxa de desenvolvimento tem aumentado regularmente. Mas, para que a humanidade continue existindo por mais 1 milhão de anos, teremos de ousar ir aonde ninguém jamais foi.
Por que devemos ir para o espaço? Qual é a justificativa para despendermos todo aquele esforço e dinheiro na obtenção de alguns poucos pedacinhos de rocha lunar? Não há causas melhores aqui na Terra?
As raízes do Brasil no espelho de próspero
O espelho de Próspero é um passo a mais na paixão latinoamericanista que une autores tão diversos como Darío, Martí, Rodó, Mariátegui, Manoel Bonfim, Sérgio Buarque de Holanda ou Gilberto Freyre – toda uma linhagem, enfim, a conceber o espaço fantástico de uma “outra” América, pensada ou sentida no contraste com o grande irmão do Norte. O espelho norte-americano refunda, desde o século XIX, a geografia shakespeariana que impressionou Sérgio Buarque e que porventura o assombraria enquanto concebia, na aventura do exílio, Raízes do Brasil. Embora esse ensaio clássico não seja explicitamente referido n’O espelho de Próspero, parece razoável supor que o livro de Richard Morse seja uma espécie de reescritura de Raízes do Brasil, capaz de radicalizar a promessa ibero-americana que brilha, também, no horizonte de Sérgio Buarque de Holanda.
Em um pequeno ensaio sobre Edgar Allan Poe, o poeta nicaragüense Rubén Darío recorda sua chegada aos Estados Unidos, através da baía de Nova York. O cenário é todo mirífico, brumoso (“En una mañana fría y húmeda llegué por primera vez al inmenso país de los Estados Unidos”), convidando o leitor ao descobrimento de uma paisagem repleta de significados: a metrópole que se insinua entre ilhas, o país que se abre às vistas, sem que se lhe possa resistir.
Em busca do urbano
O presente artigo é um balanço da produção pioneira de intelectuais marxistas que, na década de 1970, procuraram entender os paradoxos do crescimento de São Paulo e, mais amplamente, ensaiaram as primeiras formulações de uma teoria crítica da urbanização na periferia do capitalismo. Agrupados em torno do Cebrap e da FAU-USP, a urgência política do momento, somada à ascendência da interpretação de Manuel Castells, levou-os majoritariamente a encarar a cidade como espaço de consumo coletivo e luta social em torno da reprodução da classe trabalhadora. Mas a descoberta empírica da cidade permitiu que o urbano fosse, ao fim, reconhecido não apenas como lócus mas como forma da expansão capitalista.
No início dos anos 1970, diante do já acelerado processo de modernização e urbanização na América Latina, alguns intelectuais marxistas latino-americanos percebem a importância de se iniciar o que poderia vir a ser uma teoria da urbanização na periferia do capitalismo. Paralelamente à crítica ao pensamento da Cepal (Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe), que deu origem a novas interpretações sobre dependência e subdesenvolvimento, atraso e modernização, estes intelectuais passaram a mencionar os paradoxos visíveis nas cidades em crescimento como exemplos de seus textos e mesmo a dedicar ensaios e pesquisas sobre o tema.
Entre Paris e Itaguaí
A novela O alienista suscita imagens perfeitamente talhadas do que Roberto Schwarz chama de “idéias fora de lugar”. Tendo em mente essa estrutura de pensamento, este artigo revê as observações recentes de Schwarz sobre leituras nacionais e internacionais de Machado, indaga se essas observações podem acomodar uma avaliação mais amistosa do leitor internacional e passa ao romance Esaú e Jacó em busca de outros exemplos.
Na abertura da novela O alienista, de Machado de Assis, o ambicioso e azarado herói declara de forma surpreende sua lealdade à cidade onde nasceu. Simão Bacamarte estudou em Coimbra e Lisboa e é considerado, ao menos na linguagem de cronista que a história adota instantaneamente, “o maior dos médicos do Brasil, de Portugal e das Espanhas”. O rei de Portugal oferece-lhe vários empregos, mas nada é capaz de manter o médico na Europa. “A ciência é o meu emprego único; Itaguaí é o meu universo.” O jogo com essa idéia de universo, possivelmente bastante restrita, continua ao longo de toda a narrativa. “Itaguaí e o universo ficavam à beira de uma revolução.” A ambição declarada de Bacamarte é encontrar um “remédio universal” para a loucura; uma descoberta que, ele espera, “vai mudar face da terra”.
Estado de Direito e Segurança - Apresentação
O combate ao terrorismo internacional e ao crime organizado como um todo tem servido de justificativa para a adoção, via legislação, de medidas restritivas de direitos individuais, as quais, para dizer o mínimo, fogem aos padrões do Estado de direito das democracias ocidentais.
Os dois textos deste dossiê — Terroristas como pessoas no Direito, de Günther Jakobs, e Cidadãos mundiais entre a liberdade e a segurança, de Klaus Günther — trazem diagnósticos a esse respeito, a partir de mudanças recentes no ordenamento penal e processual alemão e das diretivas da União Européia em relação à segurança. Ambos os autores tratam do mesmo fenômeno: a intervenção do Direito penal tem se adiantado e expandido de tal forma que ele estaria se convertendo, nesses casos, em um mero instrumento de prevenção policial. No entanto, como veremos, localizam-se em pólos opostos do debate sobre o papel da regulação penal.
FHC: o intelectual como político
Este artigo parte do exame dos múltiplos papéis que nas sociedades contemporâneas os intelectuais desempenham na vida política. Aponta a tendência à imperícia no trato da realidade política por parte dos intelectuais no exercício do poder. Neste contexto, discute-se como e por que FHC é um raro caso de um intelectual bem-sucedido na vida política de um país complexo, de escala continental, com as características do Brasil contemporâneo. Aquilata-se, finalmente, a maneira pela qual FHC conjugou teoria e experiência nos seus juízos políticos perante as especificidades das conjunturas com as quais lidou na presidência e como combinou, na sua liderança, a dimensão da mudança e da pacificação, tendo sempre presente o “quadro mental” e o sentido de direção da sua visão intelectual.
Fernando Henrique em livro recente, Cartas a um jovem político, publicado em 2006, no qual destila didaticamente a sua experiência e reflete sobre os temas de interesse “para quem queira entrar no vasto mundo da política”, registra: “Eu me sinto mais professor e intelectual do que político, no sentido que se atribui normalmente à palavra no sentido mais usual do termo como foram, por exemplo, Campos Sales, Rodrigues Alves, Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek, eminentes e qualificados antecessores seus na presidência da República.
Nas trilhas do lobo
A certa altura, a entrevistadora perguntou: “E você, o que quer contar? Aonde quer chegar?”. Lobo Antunes, por sua vez, não se furtou às perguntas, assumindo a via da falsa modéstia, e respondeu, também diretamente: “O que pretendo é transformar a arte do romance, a história é o menos importante, é um veículo de que me sirvo, o importante é transformar essa arte, e há mil maneiras de fazê-lo, mas cada um tem de encontrar a sua”
É consenso que as palavras de um autor sobre a sua própria obra não devem ser tomadas como diapasão único para o seu julgamento; no entanto, podem oferecer boas pistas para a formulação de estratégias de leitura. Em uma de suas muitas entrevistas, Lobo Antunes viu-se diante de duas perguntas bastante complexas justamente porque simples e diretas.
O retorno de Keynes
A crise econômica atual colocou em questão o desenvolvimento da teoria macroeconômica das últimas duas ou três décadas. O rápido e profundo desmoronamento dos mercados financeiros depois de 2007 e a recessão iniciada em 2008, cujo final é ainda impossível de se vislumbrar, levaram à crítica da teoria ortodoxa e à redescoberta de argumentos associados a Keynes, que muitos julgavam um autor superado. Este artigo lista as linhas básicas do pensamento de Keynes que o tornam uma ferramenta muito superior para o entendimento da crise atual do que a ortodoxia das últimas décadas.
Aqueles que me conhecem, provavelmente saberão que a maior parte da minha produção acadêmica se dedica à exploração de problemas teóricos e empíricos propostos pelo que Leijonhufvud denominou Economia de Keynes (em oposição à chamada economia keynesiana). Esses problemas continuavam, no essencial, presentes entre economistas que passaram a ocupar o que o próprio Keynes, em sua Teoria Geral, já havia se referido como o submundo dos heréticos, habitado por autores como Joan Robinson e Nicholas Kaldor. Enquanto isso, à luz do dia, a economia keynesiana, a que fui introduzido em meus anos de estudante de graduação em economia, reduzia-se a “casos” (por exemplo, o caso de economias com preços e/ou salários rígidos, à la Modigliani; ou o caso da armadilha de liquidez, como no famoso artigo de John Hicks de 1937) ou a caricaturas de políticas (atribuía-se a Keynes ter abençoado qualquer política de gasto público, especialmente as irresponsáveis e corruptas).
Os cidadãos mundiais entre a liberdade e a segurança
O 11 de setembro acelerou o desenvolvimento de uma arquitetura transnacional de segurança que intervém profundamente nas liberdades civis individuais, tanto nos direitos básicos dos cidadãos dos Estados como nos direitos humanos dos cidadãos mundiais. O artigo delineia essa arquitetura, mostra como ela dissolve as categorias jurídicas tradicionais que preservam a liberdade e discute por que hoje se aceita amplamente a prioridade da segurança sobre a liberdade.
Na esteira de novas liberdades, a globalização trouxe novas inseguranças. O alcance da liberdade econômica está se tornando maior; as tecnologias modernas expandem ainda mais as possibilidades da comunicação e, com elas, outro aspecto da liberdade. Porém, o maior ganho em liberdade pode ser observado no direito internacional. Na qualidade de sujeito dos direitos humanos, o indivíduo torna-se sujeito do direito internacional, e, junto com os Estados soberanos, o único portador de subjetividade jurídica internacional. Isso está expresso com a maior clareza no Estatuto de Roma, que criou o Tribunal Penal Internacional. A comunidade internacional coloca o indivíduo sob sua proteção contra Estados soberanos que cometem as violações mais graves aos direitos humanos. Com isso, os cidadãos nacionais, em sua maioria, passam a ser, ao mesmo tempo, cidadãos mundiais.
Possibilismo: vida e obra de Albert O. Hirschman
Este artigo pretende desenredar as complicações da obra de Hirschman e revelar seu modo específico de investigação, tornando visíveis as influências biográficas multifacetadas sobre os textos acadêmicos de Hirschman. Expor a influência que momentos decisivos de sua vida tiveram sobre sua obra permite não só identificar e definir seu método de “possibilismo”, mas também mostrar que essa abordagem continua a ser uma ferramenta multidisciplinar válida e útil para a análise social contemporânea não-ortodoxa.
Numa noite de 1928, um estudante de ensino médio de Berlim conversa com o pai sobre a vida, o universo e tudo mais. A certa altura o pai, um renomado cirurgião da Charité, o hospital mais famoso de Berlim, confessa que não tem todas as respostas para as perguntas existenciais do filho. Um tanto chocado e desconcertado, o jovem sai correndo. Atravessa o longo corredor do apartamento burguês fin-de-siècle em que eles moram até o quarto de sua irmã mais velha, Ursula, e declara, pasmado: “Weißt Du was? Vati hat keine Weltanschauung” — “Sabe de uma coisa? O papai não tem Weltanschauung!”, ou seja, nenhuma visão de mundo abrangente com base ideológica. O jovem é Albert Hirschman — e ele próprio admite que esse foi um dos acontecimentos mais decisivos de sua vida. Naquela idade, jovem ainda, não ter uma Weltanschauung bem definida parecia a ele uma imperdoável deficiência de caráter. Em última instância, porém, não aderir cegamente a uma ideologia fixa tornou-se a marca registrada de sua obra científica, se não de sua vida inteira.
Religião nômade ou germe do Estado?
Este ensaio analisa como uma questão particular – a irrupção de focos de poder político entre os antigos Tupi da costa brasílica – foi tratada de modo entrelaçado por Pierre Clastres e por Hélène Clastres. Ainda que a reflexão da segunda deva muito ao projeto de antropologia política do primeiro, objetiva-se traçar tanto as convergências como os afastamentos entre os autores, de modo a propor novas direções para o debate por eles iniciado. Nesse sentido, pretende-se avaliar os desenvolvimentos mais recentes da etnologia centrada nos povos tupi-guarani, antigos e atuais.
Os escritos de Pierre Clastres e Hélène Clastres, entre as décadas de 1960 e 1970, conectam-se de modo intrigante. De certo modo, é possível afirmar que o livro dela, A terra sem mal: o profetismo tupi, de 1975, desenvolve e estende, por meio de um caso particular, a tese sustentada nas duas coletâneas de ensaios dele, A sociedade contra o Estado, de 1974, e Arqueologia da violência, de 1980, ambas dedicadas a pesquisas de antropologia política.
Te convidei pro samba e você não veio
A música brasileira ainda vive sob a orientação de seus dois movimentos musicais mais importantes que, durante a década de 1960, determinaram um eixo em sua história: Bossa Nova e Tropicália. A primeira redefiniu os parâmetros de nossa canção adensando seu imenso legado e apontando a novíssimas direções; a segunda, excedendo a premissa bossanovista, dilacerou seus limites atingindo quase a não-canção. Em suma, e de maneira bastante reduzida, pode-se dizer que a Bossa Nova representaria os artistas que buscam uma certa sofisticação musical e a Tropicália, aqueles que se identificam com a invenção, ainda que tais características sejam encontradas em ambos os movimentos.
O +2, grupo formado por Domenico Lancelloti, Kassin e Moreno Veloso, transita tanto pela Bossa Nova quanto pela Tropicália, por tudo aquilo que esses dois movimentos agregam ou negam. Não se trata mais de organizar ou destruir um pensamento, há espaço para tudo e para todos em sua música, com idéias apresentadas não mais sob o conteúdo programático de um movimento musical, mas por algo mais íntimo, uma banda. Organizados de modo muito original, ainda que pertençam a uma banda, cada integrante se individualiza a cada CD lançado, estampando na capa seu nome à frente do nome do grupo. Sempre com a colaboração dos demais, todos têm sua vez de “dirigir” o grupo. Desse modo, já lançaram três discos: Moreno+2 — Máquina de escrever música (2001), Domenico+2 — Sincerely hot (2003) e Kassin+2 — Futurismo (2006).
Terroristas como pessoas no Direito?
A punição de terroristas, em larga medida preliminar, ou os severos interrogatórios, não se adequam a um perfeito Estado de direito. Pertencem ao direito de exceção. Um Estado de direito que tudo abarque não poderia travar esta guerra, pois ele deveria tratar seus inimigos como pessoas e, conseqüentemente, não poderia tratá-las como fonte de perigo. Em Estados de direito que operam na prática de modo ótimo procede-se de outra maneira, e isso lhes dá a chance de não se quebrarem durante o ataque a seus inimigos.
É possível travar a “guerra contra o terror” com os intrumentos de um direito penal de Estado de direito? Ora, já em 1986 foi promulgada uma “lei de combate (!) ao terrorismo”; em 2003, a partir da conversão de uma resolução geral do Conselho da União Européia surgiu uma outra lei, visando ao “combate ao terrorismo”; e também a discreta e assim chamada “34a lei de mudança do direito penal”, promulgada pouco antes, pertence à série de leis de luta voltadas contra o terrorismo. Caso “guerra” e “luta” sejam meras palavras, elas não deveriam ser levadas incondicionalmente ao pé da letra, mas caso sejam conceitos, então “guerra” e “luta” implicam um inimigo contra o qual algo deve ser feito.
Todos os privilegiados devem ser premiados
A maioria dos estudantes que encontrei em Harvard havia já abraçado as perspectivas dos ricos, dos poderosos e dos não alienados, e parecia tê-lo feito com uma facilidade espantosa. Seguindo a tradição dos ricos norte-americanos, eles trabalhavam por períodos excepcionalmente longos, eram agressivos no exercício de seus talentos e unânimes a respeito das características ideológicas do capitalismo de mercado. Seus trabalhos escritos revelavam os componentes centrais do consenso adotado por seus pais: o significado da liberdade reside na escolha pessoal dos consumidores; a livre concorrência em bens e padrões de comportamento regula o valor; o progresso tecnológico é um bem puro; a guerra é lamentável.
Ingressei na equipe do Comitê de Títulos em Estudos Sociais da Universidade Harvard em 2000. Como tutor, depois professor, orientei teses de formandos, concebi e conduzi seminários para calouros e estudantes do penúltimo ano e lecionei seis vezes o tutorial com um ano de duração para segundanistas, Social Studies 10. A natureza fraturada de minha nomeação, renovada anualmente por seis anos seguidos embora em nenhum ano atingindo mais de 65% de um cargo em tempo integral, manteve-me à margem do prestígio e da promoção ao mesmo tempo em que me fez permanecer lá tempo suficiente para trabalhar com três catedráticos de estudos sociais, dois diretores de estudo e três presidentes de Harvard.
Sobre o Artista
Tatiana Blass