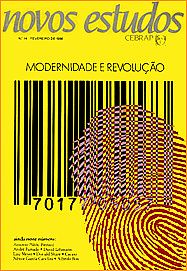
Um toque de classe, média-baixa
Um toque de classe, média-baixa
Antônio Flávio de Oliveira Pierucci
O título pode dar a entender que o suporte social da candidatura vitoriosa de JQ seja uma peça única, uma classe determinada, um estrato social bem recortado. Claro que não. JQ foi bem votado de um extremo a outro da estrutura de classes, nos quatro cantos da cidade. Seu apoio provém antes de um bizarro “patchwork” de grupos, de uma peculiar mixórdia de estratos sociais que diferem substancialmente quanto a sua posição de classe, sua atual situação como resultado do desenvolvimento estrutural da sociedade brasileira, seu caráter social, sua localização espacial na cidade. E que, por isso mesmo, costumam ficar em lados opostos (ou posicionar-se diferentemente) acerca de muitas questões políticas substantivas.
Resumo
os resultados das urnas de 85 por distritos eleitorais apontam para a dominância, no interior desse melê, dos eleitores de renda média, moradores das áreas intermediárias do mapa da cidade. Da antiga periferia. JQ obteve seus piores percentuais nos bairros mais pobres e distantes, e não andou tão bem das pernas nas áreas de elite. Em compensação, foi lá pras cabeças em bairros históricos habitados predominantemente pela classe média baixa: Vila Maria — seu reduto histórico e simbólico —, Tatuapé, Mooca, Pari, Penha, Belém, Brás, Alto da Mooca, Ipiranga, Lapa, Limão, Tucuruvi, Vila Formosa, Vila Guilherme, Vila Matilde, Casa Verde,
Santana. . .
Modernidade e revolução
Modernidade e revolução
Perry Anderson (tradução de Maria Lúcia Montes)
O tema da sessão desta noite vem sendo foco de debate intelectual, e de paixão política, há pelo menos sessenta ou setenta anos. Noutras palavras, tem a esta altura uma longa história. Ocorre, porém, que no ano passado apareceu um livro que reabre o debate com uma paixão tão renovada, com uma força tão inegável, que nenhuma reflexão agora sobre estas duas idéias – “modernidade” e “revolução” – poderia evitar urna tentativa de acerto de contas com essa obra.
Resumo
Minhas anotações esta noite tentarão — muito brevemente — examinar a estrutura do argumento de Berman e considerar em que medida ele nos fornece uma teoria convincente, capaz de conjugar as noções de modernidade e revolução. Começarei por reconstruir, de forma comprimida, as linhas gerais do seu livro para, em seguida, tecer alguns comentários sobre a validade delas.
Dinâmica socioeconômica da América Latina
Dinâmica socioeconômica da América Latina
André Furtado
A América Latina representa uma unidade regional relativamente homogênea tanto do ponto de vista histórico como cultural, constituindo-se em um terreno fértil para estudos comparativos sobre a situação dos países periféricos e subdesenvolvidos. Ela é, também, um espaço privilegiado para analisar as implicações da crise econômica atual sobre as economias periféricas.
Resumo
A crise econômica que persegue as economias latino-americanas constitui na realidade a causa impulsiva do processo deliberado de industrialização a partir dos anos 30. Porém, a crise atual é totalmente diferente, porque representa o esgotamento das estratégias da industrialização, implantadas após essa data. A história das últimas duas décadas resume esse quadro histórico.
Fernando Henrique Cardoso: da dependência à democracia
Cardoso: da dependência à democracia
David Lehmann (tradução de Maria Lúcia Montes)
A palavra “dependência” começou a tornar-se de uso corrente em meios acadêmicos internacionais A partir do título de uma obra de Fernando Henrique Cardoso e Enzo Faletto, Dependência e Desenvolvimento na América Latina, escrita quando ambos trabalhavam no ILPES, o centro de pesquisa e de ensino da CEPAL, em 1966/1967. Desde então, apesar de serem parceiros na autoria, o livro tem sido associado ao nome e à influência de Cardoso.
Resumo
Cardoso havia escrito sobre a história da escravidão no Sul do Brasil e sobre a elite industrial brasileira e, embora nunca estivesse associado a um projeto marxista para o Brasil ou a América Latina, provavelmente estava mais próximo do marxismo, e com certeza se dedicara mais ao seu estudo, do que qualquer dos expoentes da teoria da dependência. Talvez se pudesse dizer que seu marxismo prefigurava algumas das versões mais ecléticas hoje correntes na Europa Ocidental, que encontram expressão política no PCI ou no periódico britânico Marxism Today.
A evolução da esquerda socialista espanhola e a democratização
A evolução da esquerda socialista espanhola e a democratização
Donald Share (tradução de Lúcia Nagib)
Em dezembro de 1976, após a surpreendente vitória do projeto de reforma democrática do presidente Suárez no Parlamento franquista, o Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE) realizou seu Primeiro Congresso Partidário dentro da Espanha, desde antes da Guerra Civil Espanhola.Neste Congresso — o 27.º —, que contou com a presença dos mais proeminentes líderes socialistas da Europa, o PSOE se apresentou como um dos partidos socialistas mais revolucionários do mundo.
Resumo
Os socialistas espanhóis adotaram uma política estrita de austeridade econômica, evitando, ao mesmo tempo, a nacionalização nos moldes da implementada pelos seus correligionários franceses. Mesmo na área da política externa, onde o partido mantivera-se, anteriormente, mais próximo das resoluções de 1976, o governo socialista tem seguido uma linha surpreverdadeira mudança ideológica ou se seria, antes, uma moderação tática temporária
Cultura e política na Argentina: a reconstrução da democracia
Cultura e política na argentina: a reconstrução da democracia
Néstor García Canclini (tradução de Maria Lúcia Montes)
Em muitas conversas com os que retornaram do exílio, aparece um mesmo raciocínio: “A situação econômica argentina é ruim, mas sinto falta da cultura daqui”; “é difícil achar um bom emprego, mas esta é a cultura a que estou acostumado e aqui quero educar meus filhos”. Muitos dos que não saíram da Argentina nestes anos, apesar de haverem sido perseguidos, explicam pelas mesmas razões por que ficaram. Contudo, tanto os que ficaram bem como os que retornaram afirmam igualmente que “o país mudou”. Não se referem apenas ao aumento alucinante da inflação, à crise econômica e política interminável; falam também dos efeitos disso tudo sobre a cultura cotidiana, sobre a maneira de se viver.
Resumo
Enquanto nos últimos anos se escreveu um grande número de livros e artigos sobre a situação política e econômica argentina, são muito poucos os textos que revelam uma pesquisa ou uma reflexão sistemática sobre as recentes mudanças culturais. Estamos entendendo por cultura não só o mundo dos livros
e das belas artes, mas também o conjunto de processos simbólicos através dos quais se compreende, se reproduz e se transforma a estrutura social. Inclui, portanto, todos os processos de produção de sentido e significação, os mecanismos ideológicos com que se elabora o consenso, as formas particulares que tem um grupo de viver e pensar o cotidiano.
A educação e a cultura nas constituições brasileiras
A educação e a cultura nas constituições brasileiras
Alfredo Bosi
Em que consiste esse corte que a simples leitura dos textos legais deixa tão evidente? Não se trata apenas do peso, bem diverso, conferido à questão do ensino e à sua administração em todo o país. Trata-se de uma diferença qualitativa. É o próprio teor das preocupações com o ensino que muda significativamente no período que se segue à Revolução de 1930 e se traduz pela fórmula jurídica de 1934.
Resumo
Um estudo comparativo das seis Constituições brasileiras (as de 1824, 1891, 1934, 1937, 1946 e 1967), no que toca à educação e à cultura, faz saltar aos olhos um divisor de águas: a Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 16 de junho de 1934.
Nas duas Constituições que a precederam, a do Império, outorgada por Pedro I logo depois de ter dissolvido a nossa primeira Assembléia Constituinte, e a da República, recém-proclamada, a concepção de Estado, imanente em ambas, trazia o selo do iluminismo burguês. O Estado do século XIX brasileiro restringiase a atender, em tudo quanto lhe fosse possível, às demandas de segurança das oligarquias que o sustentavam, relegando a um vasto e obscurecido pano de fundo as necessidades e as aspirações de um povo sem terra, sem dinheiro e sem status.
Inclusive... Aliás...
Inclusive… Aliás…
Cacaso
Parentes de todo o mundo, desuni-vos! Vamos nos dispersar! Circular! Circular! Chega de parentada, de parentesco, de parentela. Dizem que cunhado não é parente. Digo mais: nem parente é parente. Abaixo os laços de sangue! Abaixo a família!Não é que eu não seja família, antes pelo contrário. Sou contra a expoliação da família pelos parentes. Sou familiar e caseiro. Tanto que sou a favor da amizade. A amizade é um sentimento isento de taras hereditárias.
Resumo
Ainda agora estava a meditar, sobre um caso próximo. Familiar mesmo, quase um caso de família. Uma casa de família. Naquele tempo eu era menino, tinha dois irmãos, éramos todos mais ou menos da mesma idade. Morávamos no Rio, que era a capital da República, e dava para o mar.
O que há de novo na negociação externa?
O que há de novo na negociação externa
Antonio Kandir, Lídia Goldenstein, Mônica Baer, Plínio Sampaio Jr., Rui Affonso
Ao contrário da administração Figueiredo — que considerava que a única forma de administrar o desequilíbrio externo era através de medidas ad hoc, destinadas a evitar o descumprimento dos pagamentos externos e a preservar, a qualquer custo, a imagem do país junto à comunidade financeira internacional —, o atual governo parte do diagnóstico de que o livre acesso ao mercado financeiro internacional não será restabelecido no curto prazo e, portanto, a superação do constrangimento cambial passa por uma ampla reestruturação da dívida.
Resumo
Vários analistas têm insistido em que a consolidação do crescimento da economia brasileira depende basicamente da capacidade do governo de promover o ajuste interno, isto é, de controlar o processo inflacionário e o desequilíbrio financeiro do setor público. Tais interpretações, apoiadas em projeções relativamente tranqüilas para o balanço de pagamentos nos próximos anos, têm relegado a um segundo plano a negociação da dívida externa.
Em princípio, com relação às negociações com os credores privados, trata-se de reduzir as transferências de recursos reais para o exterior, a fim de viabilizar a recuperação do nível de importações e a elevação das reservas internacionais.
