Por Leonardo da Hora
28 out. 2025
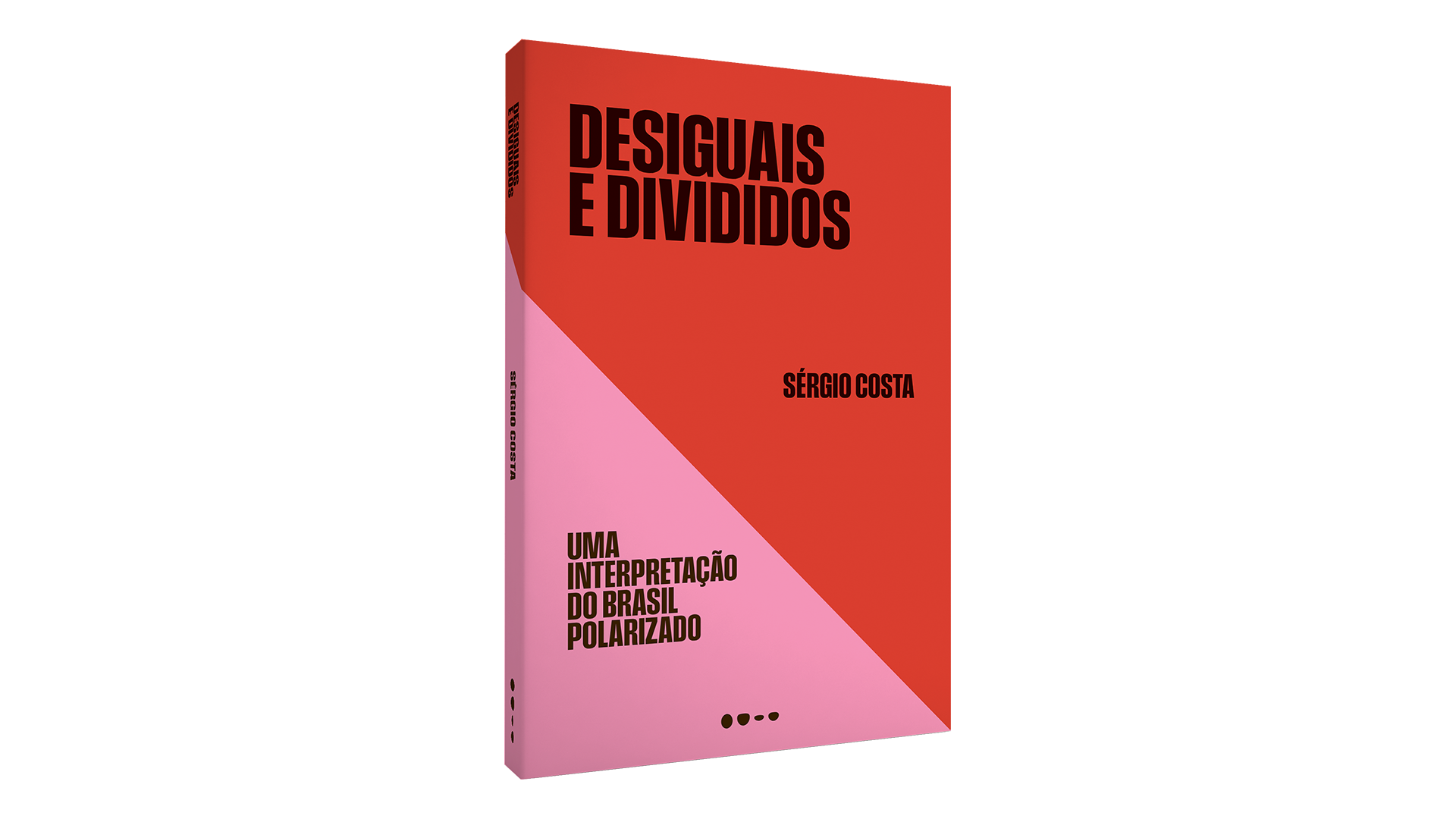
Costa, Sérgio. Desiguais e divididos: Uma interpretação do Brasil polarizado. São Paulo: Todavia, 2025.
Há livros que nos devolvem, em linguagem clara, dilemas que já intuíamos, mas ainda não sabíamos nomear. Desiguais e divididos: Uma interpretação do Brasil polarizado, de Sérgio Costa, pertence a essa linhagem. Seu ponto de partida é simples e desconcertante: como um país estruturalmente desigual tornou-se também, nos últimos anos, densamente dividido — não apenas em disputas eleitorais, mas em formas de vida que se estranham e se repelem? Ou, numa formulação mais ampla: como surgem diferenças politicamente relevantes e qual sua correlação com as desigualdades existentes?
A resposta não cede a atalhos monocausais. De um lado, a definição de desigualdade é mais ampla do que geralmente se vê na literatura: desigualdades sociais correspondem a distâncias entre posições ocupadas por indivíduos ou grupos na estrutura social, em âmbitos local, nacional ou global. Elas podem medir aspectos econômicos (renda, riqueza, controle de recursos etc.), acesso a direitos (políticos, sociais, existenciais e ecológicos), influência política e também capacidades epistemológicas. Diante desse conjunto complexo de marcadores, Costa propõe um conceito central: o conjunto de desigualdades sociais — combinando classe, gênero, etnicidade, raça, nacionalidade e outros eixos relevantes — configura a situação interseccional de uma pessoa ou grupo, isto é, sua posição objetiva nas hierarquias sociais.
Por outro lado, Costa combina a sua análise das hierarquias interseccionais duráveis com um olhar atento às escolhas dos sujeitos e aposta na articulação contingente entre situação estrutural e posições políticas: entre “onde se está” e “o que se escolhe” abre-se um campo de disputa discursiva e institucional no qual diferentes atores procuram dar sentido à própria posição. Não há linha reta que leve da carência de bens materiais ao voto “progressista”, nem da posse de capital cultural ao voto “liberal”. Entre estrutura e agência — ou, nos termos do livro, entre desigualdades e diferenças —, estende-se um espaço contingente e cambiante em que atuam campanhas, mídias sociais, igrejas e partidos (inclusive os digitais). Não são as posições estruturais em si, mas sua avaliação cultural e política — como justas ou injustas — que pesa na articulação de diferenças. Estas ganham peso político quando, em certos contextos, servem para preservar ou desmontar hierarquias e desigualdades. Assim, diferença e desigualdade se coproduzem — nenhuma precede a outra. É uma leitura weberiana que reconhece a gramática das estruturas sem reduzir a política a reflexo automático.
Essa moldura teórica, elaborada cuidadosamente ao longo dos três primeiros capítulos, ilumina um traço frequentemente mal compreendido do nosso tempo: a conquista de pequenos avanços pelos grupos que estavam na base da hierarquia — mais acesso ao consumo, à universidade, a direitos no trabalho ou reconhecimento público — não garante coesão social. Esses ganhos podem elevar expectativas entre os beneficiados (e virar frustrações) e, ao mesmo tempo, despertar sensações de perda ou “ameaça ao status” entre os que ocupavam posições superiores. Resultado: mudanças modestas podem ampliar o conflito, produzindo contenção, ressentimento e reação, em vez de pacificação imediata. O mérito do livro está em cartografar, com paciência conceitual, como essa combustão se dá no cruzamento de clivagens. Em vez de isolar “o econômico”, “o cultural” ou “o ideológico”, Costa mostra que as situações sociais são interseccionais e, por isso mesmo, resistentes a explicações únicas. Como resume o próprio autor: “isso implica que alguém que abraçou com grande convicção as propostas do PT até, digamos, 2013 e, com a mesma convicção, saiu às ruas para pedir o impeachment de Dilma Rousseff em 2015 e votar em Bolsonaro em 2018 e 2022 o fez porque viu sua situação interseccional se modificar e/ou porque encontrou nos discursos mais à direita do espectro político formas mais convincentes de traduzir as angústias e aspirações que esses deslocamentos ativaram” (Costa, 2025, p. 19). O bolsonarismo aparece, então, menos como refluxo de um traço cultural imutável e mais como articulação política específica que, em certo momento, deu coesão a ressentimentos díspares e capturou expectativas de ascensão frustradas.
A tese forte que emerge do livro é que a divisão atual não provém da desigualdade “em si” nem de identidades estáveis, mas da articulação contingente entre deslocamentos interseccionais e repertórios de tradução que, em cada ciclo, desordenam ou reordenam hierarquias. Entre 2003 e 2014, “ondas moderadas” de inclusão embaralharam posições relativas. No entanto, a partir de 2014, a crise econômica e a ofensiva política deslocaram o pêndulo para a restauração. Com isso, a direita montou um amálgama de ultraliberalismo, punitivismo, “ordem acima da lei” e moral conservadora e o incubou fora do sistema partidário (mídia, think tanks, influenciadores evangélicos). Turbinada por uma máquina digital que transformou “pessoas comuns” em operadores políticos, ela ofereceu proteção como narrativa suficiente. A esquerda ajustou o tom (preservação da vida em meio à pandemia, democracia e recomposição de direitos) com menor agilidade digital, mas maior ancoragem em redes e movimentos; ainda assim, os limites de reversão são claros. Como ganhos e perdas são difíceis de mapear e não determinam escolhas de antemão, o que decide é a capacidade de significar angústias e expectativas suscitadas por esses deslocamentos. Por isso, num país sempre desigual, passamos a ser também divididos — e a disputa por voz e sentido segue indefinida.
Em resumo, Costa trabalha com uma sociologia política das desigualdades que aposta na mediação: nem as “estruturas objetivas” bastam por si, nem as “disposições subjetivas” explicam sozinhas; o que importa é o nexo complexo entre ambas, onde se tecem sentidos e escolhas. Nesse registro, padrões duradouros de privilégio e subordinação organizam a vida social, mas deslocamentos — mesmo modestos — produzidos por políticas de inclusão, mudanças econômicas ou transformações culturais rearranjam expectativas, status e pertencimentos. É nesse trânsito, onde se acendem aspirações de mobilidade, se avivam ressentimentos e se ensaiam reordenações concorrentes, que se compreende por que escolhas políticas recentes puderam converter um país desigual em um país intensamente dividido.
Se o diagnóstico sociológico é persuasivo, o livro também convoca uma agenda de questões — primeiramente explicativas, depois políticas e normativas. Pelo lado explicativo, o caso dos evangélicos funciona como teste decisivo: ao desafiarem a hegemonia católica, desordenam a hierarquia religiosa e, ainda assim, convergem para a extrema-direita. Como o autor admite na conclusão, trata-se de uma peça mal encaixada no quebra-cabeça. A solução sugerida é que, no balanço geral das hierarquias (sobretudo gênero e sexualidade), prevalece a restauração; mas leituras recentes mostram uma direita que se apresenta como antissistêmica, quase revolucionária no vocabulário de ruptura — “varrer o sistema”, refundar a nação —, ao mesmo tempo em que recompõe fronteiras morais (Nobre, 2022; Nunes, 2022). Esse efeito se coaduna a infraestruturas digitais que oferecem agência e proteção no cotidiano — redes fechadas, circulação afetiva, curadoria distribuída —, convertendo experiências negativas em enredos rápidos de sentido (Cesarino, 2019; 2022). Em segmentos evangélicos, heterogêneos e marcados por buscas de reconhecimento e mobilidade moral-material, essa gramática encontra terreno fértil (Spyer, 2020; Freston, 1993). Em contexto de presentismo (Hartog, 2015; Koselleck, 2004) e policrise (Tooze, 2022), no qual o horizonte de expectativa se encurta e subversão e conservação deixam de ser polos fixos: a mesma coalizão pode vender refundação enquanto restaura hierarquias. À luz disso, sustento que a contribuição de Costa ganha nitidez se o critério “aceitar/rejeitar reordenamentos” for refinado para distinguir subversões restauradoras de subversões igualitárias dentro do mesmo ciclo de deslocamentos.
Essa distinção pode desdobrar-se em dois desafios conectados — um político e outro normativo. Num cenário em que o horizonte de progresso se esgarça, a crise cotidiana corrói a fé em projetos longos e a extrema-direita oferece respostas simbólicas imediatas com destreza, o diagnóstico de Costa aponta um imperativo político: reabrir a imaginação de futuro em termos reconhecíveis por quem vive as perdas, disputando o sentido das experiências negativas no mesmo terreno em que hoje são capturadas — temporal (curto prazo), afetivo (medo, desamparo, indignação) e tecnopolítico (circuitos de circulação capilar). Se, como diz o autor, “a corrida entre discursos opostos… continua aberta e indefinida” (Costa, 2025, p. 160), então não basta denunciar a fábula nem multiplicar apelos morais desconexos: é preciso restituir agência com narrativas de transformação que, ancoradas no cotidiano, ao traduzirem deslocamentos e frustrações, façam da mudança pertença — e não ameaça. Nesse registro, a retórica da “pacificação” por meio de anistias amplas — hoje brandida como atalho para “virar a página” — opera o contrário: fecha a disputa de sentidos e dilui responsabilidades, convertendo crise em esquecimento. Cabe a ressalva: o livro não se propõe a oferecer tal gramática política — nem precisa fazê-lo —, mas seu diagnóstico a convoca com força. Ao circunscrever-se à explicação, deixa em aberto o passo seguinte, que é precisamente o desafio para uma esquerda vista, nos últimos anos, como “gestora do espólio”: retomar a gramática da mudança e do novo em chave pública e compartilhável, capaz de disputar, nos milímetros da vida comum, o que conta como segurança, mérito, ordem e futuro.
Do ponto de vista normativo, a distinção entre subversões restauradoras e subversões igualitárias pede pelo enfrentamento do ponto que o próprio Costa tensiona quando fala do universal. Na nota 20 da “Introdução”, ele denuncia a “vã disputa” entre identitarismo e universalismo: todo discurso é situado; o que se apresenta como “universal” costuma ser a identidade hegemônica que apagou suas marcas. Entretanto, se tudo é situado — e a disputa pelos sentidos segue aberta —, que horizonte pode ainda orientar um país “inexoravelmente dividido”? A recusa do universal como máscara hegemônica é necessária, mas insuficiente para o desafio posto. Falta esboçar um universalismo crítico “de baixo para cima”, capaz de nascer da tradução pública das experiências negativas — perdas, humilhações, medos — em princípios generalizáveis que façam sentido para os diretamente afetados. Um universalismo não vertical, que se prove em mediações e provas públicas (de voz, de desmonte de assimetrias, de ampliação efetiva de liberdades), distinguindo subversão igualitária de subversão restauradora — sem ceder às tentações do decisionismo que animam versões de um populismo de esquerda. Em que linguagem e com que mediações esse horizonte se enuncia para ser reconhecido como promessa própria, e não como retórica? Como evitar que a invocação do “comum” escorregue para maiorias circunstanciais? Ao sustar a discussão nessa borda, o livro abre a questão, mas não a enfrenta: aí está, precisamente, o trabalho crítico-normativo que o seu próprio argumento exige.
Se há mérito em formular com nitidez os desafios acima, ele é tributário do próprio trabalho de Costa. Ao insistir na contingência e na mediação — na relação sempre complexa entre estruturas e agência —, o livro abre o plano em que a passagem de um registro ao outro não é automática, mas disputada: aí está o espaço da política e também o terreno onde as normatividades podem ser repensadas e enunciadas. Essa chave, que mostra como desigualdades e diferenças se coproduzem e como suas traduções são sempre situadas, autoriza interrogar tanto a vida convivial (gestos, pertencimentos, ressentimentos) quanto o desenho institucional (regras, direitos, prioridades). Em suma, é precisamente porque Costa fornece uma gramática para ler a indeterminação — e localizar nela o trabalho das narrativas e dos conflitos — que se torna possível avançar das explicações às boas perguntas políticas e normativas, sem perder de vista que aquilo que chamamos comum — e mesmo as perspectivas universalistas que eventualmente o sustentem — não preexiste: precisa ser construído, testado e justificado à altura das experiências concretas que o convocam.
Leonardo da Hora é professor do Departamento de Filosofia da Universidade Federal da Bahia (UFBA).
Referências
Cesarino, Letícia. “Identidade e representação no bolsonarismo: corpo digital do rei, bivalência conservadorismo-neoliberalismo e pessoa fractal”. Revista de Antropologia, v.62, n. 3, 2019, pp. 530–57.
Cesarino, Letícia. O mundo do avesso: verdade e política na era digital. São Paulo: Ubu, 2022.
Costa, Sérgio. Desiguais e divididos: uma interpretação do Brasil. São Paulo: Todavia, 2025.
Freston, Paul. Protestantes e política no Brasil: da Constituinte ao impeachment. Tese (doutorado em ciências sociais). Campinas: IFCH, Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), 1993.
Hartog, François. Regimes de historicidade: presentismo e experiências do tempo. Belo Horizonte: Autêntica, 2014.
Koselleck, Reinhart. Futuro passado: contribuição à semântica dos tempos históricos. Rio de Janeiro: Contraponto; Ed. PUC-Rio, 2006.
Nobre, Marcos. Limites da democracia: de Junho de 2013 ao governo Bolsonaro. São Paulo: Todavia, 2022.
Nunes, Rodrigo. Neither Vertical nor Horizontal: A Theory of Political Organization. London/New York: Verso, 2021.
Nunes, Rodrigo. Do transe à vertigem: ensaios sobre bolsonarismo e um mundo em transição. São Paulo: Ubu, 2022.
Spyer, Juliano. Povo de Deus: quem são os evangélicos e por que eles importam. São Paulo: Geração Editorial, 2022.
Tooze, Adam. “Welcome to the World of the Polycrisis”. Chartbook #193.
____________________
Como citar esta resenha:
da Hora, Leonardo. “O que resta da democracia? Desafios de um Brasil dividido”. blogNEC, 28 out. 2025. Disponível em: <https://novosestudos.com.br/blognec-o-que-resta-da-democracia-desafios-de-um-brasil-dividido/>.
© Este texto foi publicado sob a licença CC-BY e seus direitos autorais permanecem com o autor.
